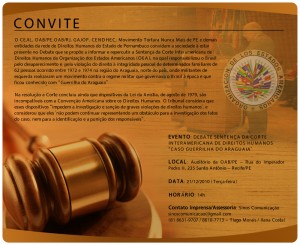Autor: Administrador

Celebração Eucarística realizada na Igreja das Fronteiras no dia 24/01/2019, lembrando os 10 anos do assassinato de Manoel Mattos

Centro pela Justiça e o Direito Internacional (CEJIL) extrerna preocupação com a Intervenção Federal Militar no Rio
Rio de Janeiro, 27 de fevereiro de 2018. – O Centro pela Justiça e o Direito Internacional (CEJIL) extremamente preocupado com a Intervenção Federal Militar no Estado do Rio de Janeiro promulgada pelo Congresso Nacional no último dia 20 de fevereiro (Decreto Federal nº 9.288), transferindo a subordinação da área de segurança pública do estado para o controle das Forças Armadas, enviou hoje, em parceria com Justiça Global e Instituto de Estudos da Religião, informação à Comissão Interamericana de Direitos Humanos (OEA) solicitando que com base no Artigo 41 da Convenção Americana, requeira ao Estado brasileiro que revogue a intervenção federal militar, explicitando que tal medida viola os compromissos internacionais assumidos de boa fé, uma vez que sua natureza e execução estão em total desacordo com as convenções internacionais já ratificadas pelo país, e se contrapõe frontalmente à sólida jurisprudência dos órgãos de proteção interamericanos.
A violência é um problema endêmico no Rio de Janeiro, especialmente incrementada pelos alarmantes índices de letalidade policial, em decorrência do uso excessivo da força por agentes públicos, que resultam nas execuções sumárias e na privação de direitos e liberdades individuais, que afetam, sobretudo, a juventude negra nas favelas, que são as principais vítimas dos abusos das instituições de segurança do Estado.
O Brasil registra um dos mais altos índices globais de letalidade policial. Entre 2009 e 2015, foram registradas 17.688 vítimas fatais em decorrência da atuação de policiais no país. Apenas no ano de 2015, foram 3.320 mortes por ação policial, sendo o Rio de Janeiro o segundo estado com maior número de homicídios com envolvimento de policiais.[1]
O constante ciclo de impunidade dos agentes públicos envolvidos em ações letais passou a incorporar o cotidiano das grandes cidades brasileiras, para além do Rio de Janeiro. A gravidade dessa ausência de realização de justiça é reconhecida por diversos órgãos internacionais, que reconhecem este problema como o desafio prioritário a ser combatido pelo Poder Público.
Recentemente, em maio de 2017, a Corte Interamericana de Direitos Humanos reconheceu na sentença emblemática do Caso Favela Nova Brasília que “a violência policial representa um problema de direitos humanos no Brasil, em especial no Rio de Janeiro”. A Corte constatou ainda que a predominância das vítimas fatais da violência policial é de jovens, negros, pobres e desarmados. A sentença determinou que o Brasil deve tomar medidas significativas para acabar com a impunidade das graves violações aos direitos humanos atribuídas a agentes de segurança pública como as que ocorreram no contexto do Caso Cosme Rosa e Genoveva Vs. Brasil. Tais violações ficaram sem investigação e processamento judicial adequados até a sentença da Corte.
É consenso entre estudiosos, vítimas, juristas, moradores diretamente afetados e autoridades especializadas, que a solução do problema da segurança pública no Estado do Rio de Janeiro e outros estados da federação, não pode ser equacionada a partir de crises contextuais, muito menos por meio de intervenções militarizadas. Sobre este tema, tanto a Comissão quanto a Corte Interamericana de Direitos Humanos têm observado que as forças militares carecem de treinamento adequado para o exercício da segurança pública, as quais devem corresponder à forças policiais eficientes e respeitosas dos direitos humanos. Neste ponto, já declararam que a criminalidade cotidiana, por mais grave que seja, não constitui uma ameaça militar à soberania do Estado e da democracia, portanto, não comporta uma lógica de guerra e não deve ser enfrentada com parâmetros distintos das garantias democráticas.
A incorporação de uma estratégia militar pode resultar apenas no agravamento das violações de direitos humanos da população que supostamente o poder público pretendia proteger. A justificativa das autoridades do Poder Executivo Federal sobre a necessidade da intervenção, conduzida por um General Militar, suscita especial descrédito ao considerar o objetivo, o meio empregado e os destinatários das ações em curso. Sobre a grave crise política institucional da segurança pública do Estado do Rio de Janeiro, segundo as declarações publicadas nos meios de comunicação em novembro de 2017, o Ministro da Justiça, Torquato Jardim, teria declarado a falta de controle do Governo do Estado do Rio de Janeiro sobre a área de segurança pública, afirmando que a escolha do comando da Polícia Militar (PM) decorreria de um “acerto com deputado estadual e o crime organizado”[2], e que os comandantes de batalhões da PM seriam “sócios do crime organizado”[3]. A partir de então, os Poderes Executivo e Legislativo Federal executaram a intervenção federal. No entanto, a intervenção federal não realiza a investigação e processamento dos agentes públicos de segurança ou autoridades eleitas do Rio de Janeiro, cujas denúncias qualificaram a crise como “institucional”, justificando a necessidade de intervenção externa [4]. Quanto aos destinatários, as ações de intervenção estão dirigidas aos atores privados, afetando exclusivamente as comunidades de baixa renda, tendo suas atividades de incursão direcionadas às favelas.
As manifestações divulgadas pela imprensa, novamente do Ministro da Defesa e de autoridades federais (civis e militares) justificam a utilização de meios por um suposto “contexto de guerra”, o qual pressuporia a flexibilização do marco normativo do Estado Democrático de Direito, no que diz respeito tanto ao uso irrestrito da força por parte dos agentes militares, quanto a prestação de contas no âmbito do poder judiciário sobre seus atos e resultados nas atividades de intervenção. Anunciam que no “contexto de guerra” os eventuais resultados das ações previstas poderiam extrapolar o marco jurídico político dos parâmetros democráticos estabelecidos.
Neste cenário, a intervenção federal aprofunda a militarização e a naturalização do uso de um instituto excepcional que emprega de modo abusivo as Forças Armadas na realização de tarefas típicas de segurança pública. A nova estratégia adotada pelo Poder Público no enfrentamento à violência se distancia da lógica que deve nortear as políticas de segurança cidadã no contexto de uma democracia.
Agrava a presente situação a promulgação da Lei Federal nº 13.491 que alterou o Código Penal Militar atribuindo competência à Justiça Militar da União para o julgamento de militares das Forças Armadas que venham a cometer crimes dolosos contra a vida de civis, em contextos como os da intervenção em curso. Sendo assim, os militares que venham a ser responsáveis por mortes, inclusive de civis, na atual conjuntura de intervenção do estado, serão julgados pela Justiça Militar, e não pela justiça comum. Tal prerrogativa colide frontalmente com as garantias de acesso à justiça. De acordo com a jurisprudência consolidada no sistema interamericano, a jurisdição militar deve ser restritiva e excepcional, e não é um foro competente para investigar, julgar e punir autores de violações de direitos humanos, que deveriam ser processados no âmbito da justiça comum.
Ampliar a jurisdição militar fragiliza as obrigações que o Brasil assumiu internacionalmente.
Segundo Viviana Krsticevic, Diretora Executiva do CEJIL: A Corte Interamericana já alertou o Brasil que é necessário que tome medidas para acabar com a situação de violência e impunidade vinculada ao envolvimento de policias na morte de civis. Portanto a militarização não é a medida adequada, nem em relação às obrigações internacionais do Estado, nem tampouco para o desenvolvimento da segurança cidadã na região.
Deste modo, solicitamos ao Estado brasileiro que reconsidere a decisão que tomou de intervir militarmente na segurança do Estado do Rio de Janeiro.
Nesse sentido, Beatriz Affonso, Diretora para o programa do CEJIL no Brasil solicita que: “as instituições que formalmente tem prerrogativas para monitorar e investigar a atuação das forças de segurança pública e/ou as Forças Armadas em atividade civil, como está previsto na Constituição Federal, estejam atentas e garantam que as ações da intervenção respeitem estritamente os marcos de legalidade estabelecidos no sistema democrático. Em nenhuma circunstância as autoridades devem flexibilizar os limites de proteção dos direitos dos cidadãos, nem tampouco utilizar critérios de exceção que admitam a não investigação ou responsabilização de eventuais crimes, abusos ou uso excessivo da forca letal, efetuando o controle das atividades relacionadas à segurança pública.
CEJIL Brasil
[1] Fórum Brasileiro de Segurança Pública, 10º Anuário Brasileiro de Segurança Pública. 2016.
[2] Josias de Souza, Blog da Uol, disponível em: https://josiasdesouza.blogosfera.uol.com.br/2017/10/31/comando-da-pm-no-rio-e-acertado-com-deputado-estadual-e-crime-diz-ministro/ (Anexo 4)
[3] https://oglobo.globo.com/rio/ministro-da-justica-diz-que-comandantes-de-batalhoes-da-pm-sao-socios-do-crime-organizado-no-rj-22013170
[4] Correio Braziliense, 20 de fevereiro 2018, “Não há guerra que não seja letal, diz Torquato Jardim ao Correio”. Vide http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/politica/2018/02/20/interna_politica,660876/correio-entrevista-oministro-da-justica-torquato-jardim.shtml.

Fraternidade e Superação da Violência
A Campanha da Fraternidade 2018 (CF 2018) é realizada todos os anos pela Igreja Católica no Brasil durante o período da Quaresma, e a campanha é coordenada pela CNBB (Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. A Campanha da Fraternidade tem como principal objetivo despertar a solidariedade de todos os seus fiéis e também da sociedade brasileira, em um problema que envolve todos nós, buscando assim uma solução para resolver esses determinados problemas. Todos os anos, são escolhidos temas, o Tema da Campanha da Fraternidade 2018 é: “Fraternidade e superação da violência, tendo como lema Em Cristo somos todos irmãos (Mt 23,8)“.
A CF 2018 é realizada em âmbito nacional, e envolve todas as comunidades cristãs católicas e ecumênicas do Brasil. A arrecadação da Campanha da Fraternidade compõe o Fundo Nacional de Solidariedade e os Fundos Diocesanos de Solidariedade, onde 60% da arrecadação são destinadas ao apoio de projetos sociais da própria comunidade diocesana, e os outros 40% restantes compõem o FNS, que são destinados para o fortalecimento da solidariedade em diversas regiões do país.
Educar para a vida em fraternidade, com base na justiça e no amor, exigências centrais do Evangelho.
Renovar a consciência da responsabilidade de todos pela ação da Igreja Católica na evangelização e na promoção humana, tendo em vista uma sociedade justa e solidária.

Política “Don’t ask, don’t tell” banida dos EUA
O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, assinou nesta quarta-feira (22) lei que permite aos militares homossexuais assumirem sua orientação sexual dentro das Forças Armadas, banindo a chamada “Dont Ask, Dont Tell” (“não pergunte, não conte”), criada em 1993 pelo então presidente Bill Clinton.
“Estou muito feliz. Este é um dia muito feliz. Eu quero agradecer a todos vocês, especialmente às pessoas neste palco. Cada um de vocês trabalhou tão duro nisto”, disse Obama, ao derrubar a legislação que vigorava há 17 anos no país.
“Não somos um país que diz não pergunte, não conte. Somos uma nação que diz dentre tantos, somos um”, acrescentou o mandatário, durante cerimônia realizada na sede do Departamento do Interior, em Washington.
A nova lei, que começa a valer dentro de 60 dias, será aplicada com rigor, garantiu o presidente. “Nós não vamos arrastar nossos pés nisso”, prometeu Obama.
Fonte: Universo on line.
A condenação do Brasil
O Brasil sofreu nova condenação na Corte Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) – a terceira da história. Desta vez foi por causa da guerrilha na região do Araguaia, entre 1972 e 1974, e da Lei de Anistia, que foi editada em 1979, beneficiando guerrilheiros e agentes do Estado que teriam cometido torturas e assassinatos. As duas outras condenações foram por causa de agressões a mulheres, o que resultou na aprovação da Lei Maria da Penha, em 2006, e de denúncias de maus-tratos em penitenciárias e manicômios.
Com 126 páginas, a decisão da CIDH afirma que a Lei da Anistia é incompatível com o Pacto de San José da Costa Rica, do qual o Brasil é signatário. Ela também acusa o Estado brasileiro de não ter punido os responsáveis pelo desaparecimento de 62 pessoas, no conflito do Araguaia, e determina que a União pague US$ 3 mil para cada família, a título de ressarcimento por danos materiais, e US$ 45 mil, a título de ressarcimento por danos morais. A sentença exige ainda que o Estado brasileiro investigue todos os “crimes contra a humanidade” praticados no País.
Nas três condenações sofridas pelo Brasil na CIDH, que funciona em San José, os processos foram abertos pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos, com sede em Washington, a pedido de movimentos sociais e ONGs, que há anos acusam a Justiça brasileira de julgar com descaso ações criminais relativas a torturas e assassinatos de militantes da luta contra a ditadura. Tanto a Corte quanto a Comissão – que atua nos moldes de um Ministério Público – são vinculados à Organização dos Estados Americanos (OEA).
Pelo Pacto de San José, os países signatários se comprometem a cumprir as decisões da CIDH. No entanto, por mais que causem constrangimentos políticos, as condenações da Corte não acarretam sanções jurídicas. Quando muito, os países condenados passam a enfrentar dificuldades para obter créditos favorecidos junto a organismos multilaterais. Para evitar sanções morais e encerrar as discussões, alguns governos têm optado por negociar acordos com a CIDH. Em 1988, para impedir que o Brasil fosse condenado por causa da asfixia de presos comuns no 42.º Distrito Policial de São Paulo, crime ocorrido antes de sua ascensão ao Palácio dos Bandeirantes, o governador Mário Covas mandou indenizar as famílias das vítimas – o que permitiu ao Itamaraty negocia r uma “saída amistosa” com a OEA.
A condenação sofrida pelo Brasil no caso da guerrilha do Araguaia tem uma dimensão inédita, por esbarrar em problemas político-institucionais. Os juízes da CIDH alegam que a Lei da Anistia foi concebida pela ditadura militar. Mas eles se esquecem de que, do ponto de vista jurídico, a Lei foi “recebida” pela Constituição de 88. Na redemocratização brasileira, em outras palavras, a Assembleia Constituinte não a alterou, reconhecendo assim sua validade formal. Além disso, quando ONGs questionaram a constitucionalidade da Lei da Anistia, pedindo sua revisão para poder punir funcionários públicos envolvidos com a repressão no regime militar e invocando o Pacto de San José, o Supremo Tribunal Federal (STF), em decisão tomada há oito meses, reiterou o qu e havia sido decidido pela Constituinte, há 22 anos, e deixou claro que o País é soberano em matéria de iniciativa legislativa, que as decisões da CIDH não vinculam a Justiça brasileira e que a Lei da Anistia resultou de um pacto para consolidar a democracia.
Foi por isso que os ministros do STF reagiram com indignação à condenação aplicada ao Brasil pela CIDH. “Essa é uma decisão que pode surtir efeito no campo moral, mas não implica a revogação da Lei da Anistia e a cassação da decisão do Supremo”, diz o ministro Marco Aurélio de Mello. “A decisão da CIDH não terá efeitos diretos em relação a pessoas processadas por crimes anistiados”, afirma o presidente da Corte, Cezar Peluso. Por mais barulho que movimentos sociais e ONGs possam fazer no plano político, afirmando que o Brasil precisa respeitar o que foi determinado pela CIDH, a Lei da Anistia continuará em vigor, sendo respeitada e aplicada pela Justiça.
http://www.estadao.com.br/noticias/geral,a-condenacao-do-brasil,655168,0.htm